É tudo Genética?
É tentador acreditar que somos apenas fruto da genética. Que nossos medos, angústias, vícios e dores têm uma causa objetiva, localizada em algum ponto do cérebro ou do DNA. É um alívio pensar que aquilo que dói em nós não depende da história que vivemos, mas de algo que já nasceu marcado. A biologia tranquiliza — ela tira de cena a culpa, o peso das escolhas, o incômodo de olhar para as experiências, as relações; o que foi vivido...
Mas e o ambiente? E os vínculos? E tudo aquilo que nos atravessou antes mesmo que tivéssemos palavras para compreender?
A ciência já sabe que a genética não é um destino. Que determinados genes podem ser ativados ou silenciados conforme o meio, os afetos, os traumas, os gestos repetidos. Que experiências vividas — especialmente na infância — podem modificar não só a estrutura cerebral, mas também a forma como o corpo sente, reage, sobrevive. Na infância, nossa linguagem ainda está em construção; faltam palavras para nomear o que se vive, o que se sente, o que dói. Por isso, muitas marcas psíquicas se inscrevem no corpo, no comportamento, no silêncio — e seguem agindo mesmo sem terem sido ditas.
E mais: herdamos não apenas a composição biológica dos nossos ancestrais, mas também seus silêncios, suas ausências, seus modos de amar e de temer.
Se temos, em nosso DNA, a influência de milhares e milhares de pessoas, por que justamente um determinado traço se manifesta — e não outro? Por que o gene da melancolia encontra mais espaço para florescer do que aquele da leveza? O que favorece essa prevalência? Não será o ambiente, as relações, os acontecimentos da vida que oferecem solo fértil para certos aspectos do nosso potencial se realizarem — enquanto outros adormecem?
Reduzir os transtornos mentais apenas à biologia é, em certo sentido, negar o sujeito. É esquecer que não somos só corpo, mas também história. Não apenas estrutura, mas também desejo, falta, marca.
Sim, há uma base genética. Mas ela é apenas um dos fios da trama. Os outros se tecem com os afetos, os encontros, as ausências, os medos não ditos, as perdas não elaboradas. E é nesse emaranhado — onde biologia e experiência se entrelaçam — que nos tornamos quem somos. Com tudo o que isso tem de singular, de imprevisível e de profundamente humano. E é nesse emaranhado, também, que a escuta tem potência de transformação.
A palavra, quando encontra espaço, pode desenlaçar antigos nós. A escuta, quando sustentada, modifica não só o olhar do sujeito sobre sua própria história — mas também o seu corpo, suas reações, sua forma de existir no mundo.
A neurociência já observa o que a psicanálise intuía: experiências simbólicas, como as que ocorrem no processo analítico, são capazes de reorganizar circuitos neurais, alterar fluxos emocionais, reescrever trajetórias psíquicas.
Isso porque a elaboração psíquica não acontece apenas no plano das ideias — ela atravessa o corpo. Aquilo que foi vivido de forma silenciosa, muitas vezes inscrito como sintoma, pode, com o tempo e a palavra, ser reorganizado, compreendido e transformado. Falar sobre o que antes era indizível possibilita encontrar novos sentidos para o que se viveu — e abrir espaço para formas mais leves de estar consigo e com o mundo.
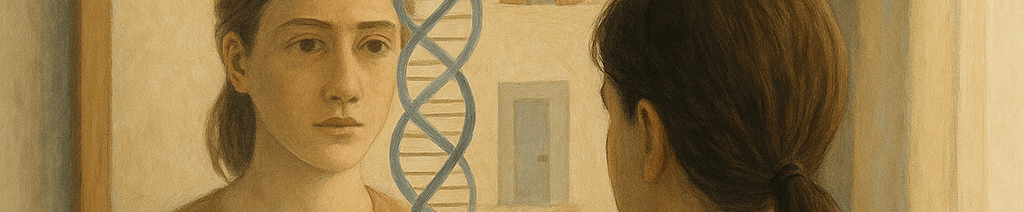

R. José Brum, 65 - Sala. 02
© 2025. All rights reserved.
Telefone: (41) 99761-3474
E-mail: rosangelafarmaco@gmail.com